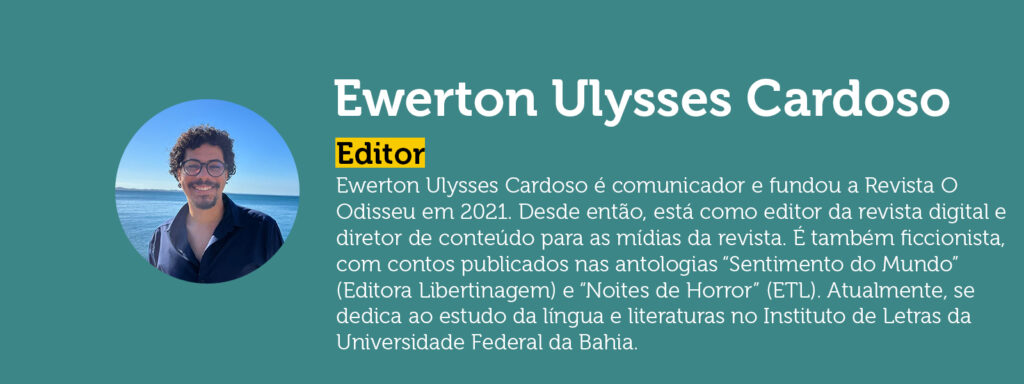O que mais me interessou em ‘Meu caso de amor com o Brasil’, a ponto de fazê-lo pular algumas leituras que estavam na frente dele, foi justamente a possibilidade de ver o meu país pelos olhos do outro.
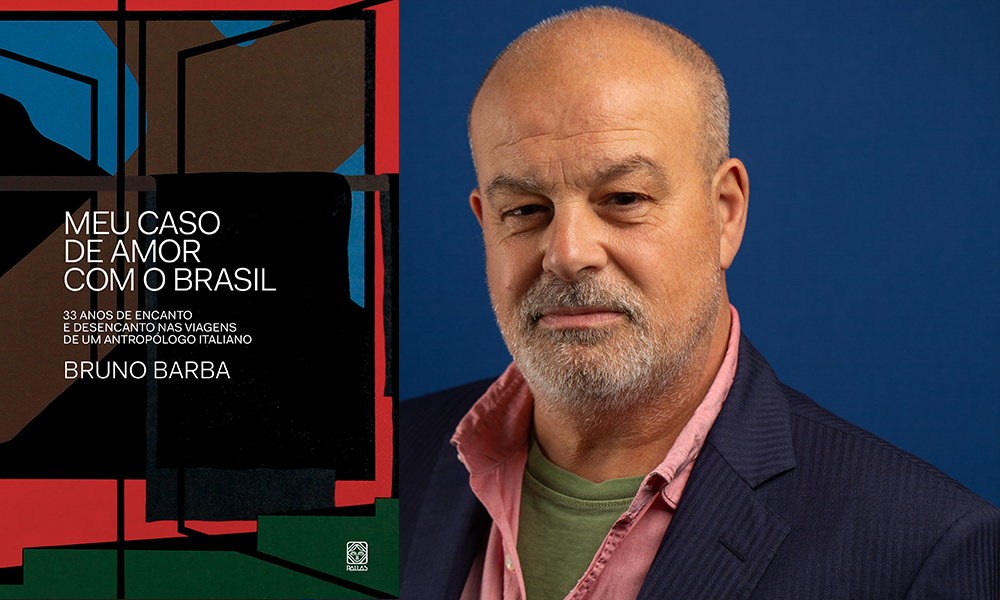
Não é novidade, para os brasileiros, a presença entre nós de pesquisadores estrangeiros, antropólogos, filósofos, sociólogos e afins que vêm ao Brasil em busca de nos fazer objeto de estudo. Dotados de uma lupa, que é o método que pretendem utilizar para esse estudo, esses cientistas tentam nos categorizar dentro dos rótulos criados por alguma área do saber ocidental.
Nesse desafio, se deparam com a impossibilidade de decodificar o Brasil em que vivemos e que, muitas vezes, é difícil até mesmo para nós mesmos de se interpretar. As sucessivas tentativas de interpretação têm se mostrado cada vez mais falhas. Já superamos Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Caio Prado e tantos outros. Provavelmente, os que lemos hoje como intérpretes livres de defeito, como Lélia Gonzalez e Muniz Sodré, também serão superados. Faz parte. Ficará as contribuições de cada um deles.
Penso muito naquela canção de Adriana Calcanhotto, Negros, em que diz, no finzinho da canção, lanço meu olhar sobre o Brasil e não entendo nada. Acho que essa é uma sensação muito presente em mim. É um país tão repleto de beleza e horror que me leva do encantamento à vertigem em questão de milésimos de segundos.
Mas voltemos aos estrangeiros. Bruno Barba, que acaba de publicar pela Pallas “Meu caso de amor com o Brasil: 33 anos de encantamento e desencantamento nas viagens de um antropólogo italiano”, deixa bem claro já no título do texto do que se trata o livro. São reflexões sobre o nosso país através da sua visão particular, que é a de um indivíduo europeu, branco, que vem ao país dotado de ideias que podem ou não ser verdadeiras sobre o Brasil. Há algumas coisas que eu gostaria de considerar sobre este livro.
Pode o antropólogo descolar-se de si?

Dentro dos estudos literários, muito se discute sobre a alteridade. A literatura talvez seja o modo mais eficiente de se colocar no lugar do outro, de modo que podemos pensar que o lugar de fala, embora seja um conceito importantíssimo para a elaboração do discurso, não cabe dentro do texto literário, lugar no qual eu posso me transmutar em diferentes sujeitos, os mais diferentes de mim mesmo.
No entanto, claro que se trata de tentativas, pois a literatura é o lugar mais próximo de alteridade, mas ainda assim muito limitado. No geral, a nossa experiência enquanto indivíduos parece estar arraigada nas características e categorias sociais às quais pertencemos. A antropologia, semelhantemente, também se desafia na alteridade e assim Bruno Barba faz.
Não, o antropólogo não consegue descolar-se de si mesmo. As visões eurocêntricas de Barba vazam no texto, mesmo quando ele acredita que não. De todo modo, ele tem total consciência disso, de sua incapacidade de ver o Brasil por dentro, como um brasileiro veria. Da mesma forma que eu não conseguiria ver a Itália como ele vê e nisso não há problema algum. A sinceridade como o autor trata desse tema é um dos pontos altos do texto. Afinal, mesmo que o literato ou o antropólogo não consigam se desprender desse lugar de onde vieram, é necessário seguir tentando. Essa é uma lição que o autor em questão parece ter percebido da leitura do antropólogo, e também apaixonado pelo Brasil, Lévi-Strauss. Barba o cita com certa frequência e a verve de seu pensamento, que é a ideia de recorrer ao simbólico também como uma forma interpretativa da realidade, é herança de Strauss. O conhecimento enciclopédico que Barba tem sobre o Brasil (muitos deles que eu não tenho, inclusive. Conhecimentos que só um pesquisador do melhor calibre poderia ter) não o isentam de ser o que sempre foi e ainda é: um italiano, europeu.
Em determinado momento, ao escrever sobre os anos de pesquisa que desenvolveu na busca de compreender o candomblé, ele assume que, por mais que ele seja muito próximo dos rituais e da filosofia de terreiro, por mais que ele tenha tentado se integrar o máximo possível, há uma falta. Ele não pode descrever o que é, de fato, esse entendimento religioso e, tampouco, os orixás:
Em um candomblé, não é possível entrar e sair à vontade; ou seja, certos segredos iniciáticos podem ser conhecidos se e somente se você cumprir o rito de iniciação e se tornar, para todos os efeitos, um devoto. Nesse caso, como aconteceu com muitos colegas meus, você negocia uma experiência maior por meio de um inevitável dever de serviço, por um envolvimento militante que afeta a objetividade e a sinceridade […] Por outro lado, como já disse, embora não tenha me tornado filho de santo, o envolvimento intenso que tive nesses 33 anos me possibilitou uma visão intensa, embora incompleta e imperfeita. Para mim, foi o suficiente. (p. 158).
Nisso fica claro, por exemplo, que Bruno Barba tem mais conhecimento sobre candomblé que eu, visto que, embora baiano, minha relação com a religião nunca foi intensa e interna. Raramente presenciei ritos, o que ele presenciou e muito. São graus de conhecimento diferentes, mas ambos incompletos. Nisso a obra de Barba também fica mais próxima do que se espera do estudo antropológico. Despido de arrogância intelectual, o autor não tenta elaborar teses e teorias sobre o culto, mas relata especificamente aquilo que viu partindo desse princípio da pessoalidade. Com isso ele se coloca um passo à frente de Zweig, por exemplo, que parece, em seus escritos, já estar perfeitamente ciente daquilo que o Brasil representava, uma espécie de farol para o mundo.
Talvez a prova de que o antropólogo em questão não consiga se despir de inteiro de sua essência seja a resistência em ceder ao transe. Barba conta que chegou abrir o jogo de búzios, onde ele foi identificado como não-rodante, categoria do candomblé em que não há incorporação, mas ainda assim cita algumas vezes o medo, a tensão diante a possibilidade de um transe, algo indesejado, embora, parece, uma ameaça constante.
O caminho pela paixão
Barba conta que a sua aproximação com o Brasil começou por meio do estudo sistemático, científico, mas também pela paixão. Já na Itália conheceu as obras de Jorge Amado, o que lhe deu um vislumbre daquilo que poderia ser o Brasil. Ao chegar aqui, no entanto, percebeu que o Brasil era bem mais. Inclusive, bem mais em contradição.
Com uma paixão consciente, o autor não se priva de fazer análises também a respeito de sua própria decepção com o Brasil em alguns momentos. Seu amor, que se manifesta a ponto de chamar o país de meu Brasil, não é empecilho para uma interpretação crua daquilo que se passa em nosso país. O racismo, a insistência do fascismo, a corrupção, a cracolândia, são todos problemas que ele possibilitou falar, para além de citar conhecimentos incríveis sobre o futebol brasileiro ou sobre as telenovelas, Caetano Veloso e a bossa nova.
Na busca pelas soluções, consigo perceber que o autor ainda se vale muito do pensamento amadiano no que diz respeito à miscigenação. Ou seja: o encontro de raças como uma possibilidade de superação do racismo. Faz isso, no entanto, de forma a assumir os riscos dessa sua posição:
Apesar das “nuvens” escuras que permeiam aquele céu que me parecia azul e uma fonte de prazer estético, ainda estou convencido de que a miscigenação seja o melhor de todos os modelos de desenvolvimento “comunicativo”, porque atende a vocação humana para o diálogo. (p. 202).
Eu, por outro lado, não estou tão convencido assim. A miscigenação é um fato. Acontece e seguirá acontecendo. Sim, é uma celebração da pluralidade e é uma coisa linda, quando pensamos como os afetos conseguem ir além da barreira social. Entretanto, mesmo sendo um país altamente miscigenado, o Brasil ainda é racista. A miscigenação não parece ser a nossa solução.
E qual seria?
Barba termina o texto com mais interrogações que com respostas, mas também com muitas declarações de amor. O que mais me interessou no livro, a ponto de fazê-lo pular algumas leituras que estavam na frente dele, foi justamente a possibilidade de ver o meu país pelos olhos do outro. A prosa de Barba é saborosa como um quitute baiano e suas experiências em meu país me ajudaram a incluir algumas outras reflexões sobre o lugar em que vivo. Mas acho que ambos concordamos que, ao lançar nossos olhares sobre o Brasil, ainda não entendemos nada.
Leia Também: ‘Há de se estar perto de algum fim’: A poesia escatológica de Lígia Souto em ‘Finde Mundo’
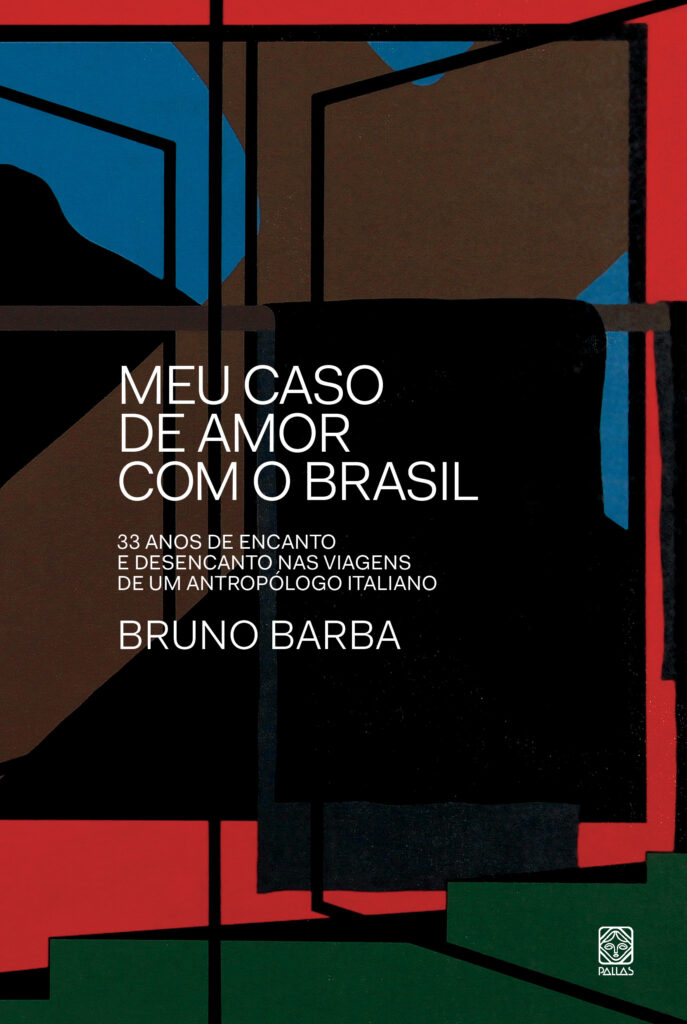
Meu caso de amor com o Brasil: 33 anos de encanto e desencanto nas viagens de um antropólogo italiano, de Bruno Barba
Pallas, 2025
Tradução de Adriana Marcolini
216 pp. R$ 56